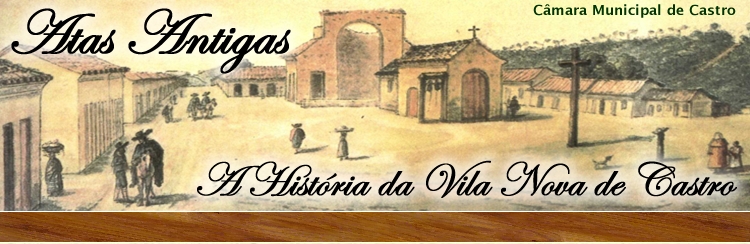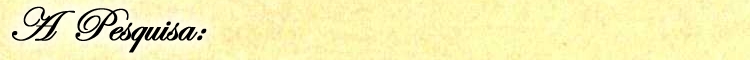Os reflexos do Yapó e a Vila de Castro dos anos de 1825
Profª Luciane Paula Corá Molin
A Vila de Castro, a partir dos anos de 1825, intensifica o diálogo com outras partes do Império, recém alcançada a Independência, mesmo que apenas tenha sido um golpe de Estado. D. Pedro I decidiu ficar no Brasil, mesmo com a volta da Família Real a Portugal, então já livre do Bloqueio Continental feito por Napoleão Bonaparte.
O momento não discute a evidência de um golpe de Estado, mas o significado dessa decisão para a nova nação proclamada em 1822. Voltar às terras lusas seria, provavelmente, perder campo e dinheiro é claro, para a Inglaterra e seu imponente comércio ultramarino. Ficar no Brasil seria a melhor iniciativa para D. Pedro I e sua “cabeça” não rolaria certamente pelas mãos das grandes famílias da aristocracia brasileira. Os negócios já eram centenários. A cana-de-açúcar e os engenhos de café davam o ar de prosperidade para alguns. Recolonizar o Brasil era o objetivo da burguesia que estava em Portugal. O Imperador sofreria grande pressão da terra brasileira. Contudo, brasileiros livres de Portugal em 7 de Setembro de 1822, já haviam iniciado uma profunda dependência ao interesse e monopólio da Inglaterra. Essa condicionava o reconhecimento da Independência à extinção do tráfico negreiro, não por razões humanistas, mas pelo fato das mercadorias inglesas poderem competir nos negócios além do Atlântico.
Alguns dias de cavalgada separavam a Capital da Província de São Paulo, das terras do Vau do Yapó. Mas esses rumores políticos e diplomáticos, pelo menos nos documentos do Legislativo da época, não faziam parte da pauta e discussão.
A extensão territorial da Quinta Comarca da Província de São Paulo abrangia inúmeros municípios, hoje já desmembrados, acerca de trezentos quilômetros de distância. Castro, Ponta Grossa, Piraí, Guarapuava, Palmas e Tibagi, freguesias e povoações, faziam parte de sessões extensas da Câmara de Vereadores. Geralmente, eram quatro sessões anuais, e cada uma delas durava em torno de sete dias, cerca de cinco e seis horas diárias de leitura e discussão de requerimentos de moradores ou negociantes, e ofícios vindos do Governo da Província. A concessão de terras ou de foros era constante. As fazendas se diferenciavam pela extensão e localização, formando sítios e chãos urbanos. Foi o gradativo processo de partilha dessas terras, por venda, herança e doação, que contribuiu para a valorização da terra e fixação das populações do campo. A respeito da origem desses fazendeiros, as diferentes fontes existentes permitem concluir que tinham procedência múltipla: São Paulo, Santos, Paranaguá e Curitiba, pertencendo a famílias ricas e poderosas desses locais. Os nomes femininos aparecem agora com mais freqüência, talvez mais por necessidade, do que por iniciativa de poder. Provavelmente muitas viúvas, que reivindicavam seus direitos e a posse de suas terras, ou de terrenos mais próximos à Vila. Por outro lado, a necessidade de terras junto à sede do Município deu-se pelo trabalho ligado à pecuária, busca constante de tropas para abastecer a feira de Sorocaba, ser oficio em grande parte dos homens. Mas, de forma alguma as mulheres se distanciavam dos trabalhos rurais e da guarda de suas propriedades. Meses e léguas, separavam famílias, ou criavam-se outras nas demais paragens. Essas vantagens lucrativas atraíram investimentos, tanto de proprietários locais, quanto de outros profissionais, como médicos, burocratas, bacharéis em direito, padres, comerciantes (muitos alemães), os quais também financiaram parte do trabalho tropeiro. A mão-de-obra nas fazendas era realizada pela família proprietária (quando esta ali residia), pelos agregados e, sobretudo, pelos escravos, força de trabalho que incluía negros, índios ou seus mestiços. Os capatazes, feitores, capangas, compadres eram homens juridicamente livres e ocupavam uma camada intermediária entre proprietários e escravos. As idas à Província de São Pedro do Sul, propiciaram a ocupação de outras terras, tanto por gaúchos como por paranaenses. A ligação entre as regiões se fazia pelo Caminho do Viamão, que compreendia três rotas, sendo a via mais utilizada denominada Estrada Real, passando pelos campos de Vacaria, de Lages, Campos Gerais e Itararé, chegando a Sorocaba.
Relatos e genealogias nos permitem afirmar, que o Caminho das Tropas fez do sul do Brasil uma região única, com ascendentes em comum. Trabalho de pesquisa difícil para curiosos ou historiadores, pois as fontes primárias oficiais estão sob a guarda da Igreja Católica, em suas listas de batismos e casamentos, nas mais diversas paróquias desta região.
Em 1829 começam os choques políticos entre a Freguesia de Ponta Grossa e a Vila de Castro. A Igreja teve um papel fundamental nessas querelas, pois os párocos, muitas vezes ocupavam cargos políticos na Câmara Municipal. Discutiu principalmente os limites das duas povoações, prisão e tortura de escravos e o uso do “tronco” nesses castigos.
À medida que as necessidades surgiam, comissões de vereadores eram criadas com o intuito de organizar a administração do Município, fiscalizar e controlar o uso do dinheiro, que nem sempre era público. Várias construções e reformas dependiam de doações de famílias mais poderosas. Essas comissões emitiam seus pareceres sobre as decisões a serem tomadas, entretanto a Câmara sofria com a ausência e abuso de certos camaristas.
O estabelecimento de um Código de Posturas Municipais e Policiais proporcionou que o trabalho dos fiscais de quarteirão, no caso das sedes das povoações, ou de outros em lugares mais distantes, pudesse ser uma tarefa mais organizada, mas não sinônimo de paz ou tranqüilidade. Muitos excessos são citados nas atas. Crimes e perseguições, desavenças entre mandatários políticos, os chamados coronéis, título esse garantido pelo poder de terras e de persuasão sobre a população local. As festas e suas condutas também eram organizadas por esse Código, os sepultamentos e a presença de “vadios e mendigos” dentro da Vila ou de negros em lugares públicos, presença de animais soltos, como porcos, cães e cavalos, que se fossem mortos, a renda iria para o Município ou se causassem danos ao público, o dono deveria pagar multa. Também o mesmo código atribuía pena severa ao escravo que portasse armas de fogo ou facas pontiagudas: receberia o castigo de 25 açoites em público. As restrições impostas ao batuque dos negros, nas vésperas e nos dias santos, tinham sentido regulador, pois impediam o ajuntamento de escravos e outros. Os alimentos provenientes de outras regiões, a cachaça e os tecidos de algodão ou lã, eram tributados conforme regras estabelecidas pela Câmara Municipal, de acordo com diretrizes imperiais.
Os trabalhos de construção como da Igreja Matriz, pontes e estradas públicas, em grande parte eram realizados por “jornaleiros”, ou trabalhadores por jornada. Aliás, o tema “reforma” era constante das atas quase que regularmente. Ao que parece esse trabalho fora iniciado uma série de vezes, porém nunca concluído. Em 13 de Setembro de 1830, suspendeu-se a cobrança de pedágio na Ponte sobre o Rio Yapó. Os recursos para suprimento de gastos seriam oriundos de doações ou do erário público.
As discussões sempre surgiam em razão da falta de vereadores, ao invés dos problemas da comunidade, possivelmente por não ser função remunerada, atrasavam as decisões e ações da Comarca, permitindo uma série de contradições entre o discurso de um vereador para outro. Em 1831, pede-se um Pároco para a Freguesia de Belém em Guarapuava, alegando que dessa forma, os povoadores se sentiriam mais seguros frente aos “gentios” ou índios que lá habitavam. Mais tarde, cerca de dez anos depois, surge a necessidade de contratar um professor de ensino laico de “Primeiras Letras”, no intuito de educar as crianças brancas e catequizar os índios, sob a justificativa de trazer à civilização e dar fim a barbárie. Em tese, educá-los nos molde cristão e europeu, não era tarefa fácil.
A normatização de pesos e medidas, como preços e valores de troca tinham como referência a cidade de São Paulo. Bem como a iniciativa de trazer um médico para a Vila, determinando o isolamento dos portadores de hanseníase para além dos limites da povoação. Constantemente era trazido de São Paulo o “pus vacínico”, funcionando como uma espécie de vacina preventiva contra a varíola. A higiene, o saneamento da água e do esgoto era precário, criando-se assim normas para a conduta da população, sobre seus hábitos e alimentação.
Durante a década de 1830, vários pedidos e requerimentos foram enviados à Câmara de Castro, com o intuito de elevar povoamentos à condição de Freguesia, como é o caso de Jaguariaíva e Guarapuava. No caso de Tibagi, se percebe a preocupação em “apaziguar” uma série de conflitos entre os indígenas e povoadores brancos, muitos desses vindos de outras regiões do Brasil, ou até mesmo de Portugal.
São evidentes as tensões entre famílias tradicionais, principalmente no que se refere à posse de terras em toda a extensão do Município. Saídas intempestivas durante as sessões da Câmara, ou situações de votação negadas, por ser o presidente da casa de leis suspeito em várias decisões favoráveis a sua família. Não existia neutralidade de idéias ou dos cargos ocupados. Rixas entre favoráveis ao imperador e possíveis republicanos era constante. Por muitos anos as mesmas famílias estiveram no poder, em detrimento de seus próprios interesses, ligados ao tropeirismo e à vida política.
Alguns escrivãos da Câmara tratavam estas discussões com o termo “rábula”, ou seja, pessoas com conhecimento de oratória ou de um precário conhecimento em direito, que falavam muito, embaraçando as questões com artifícios que a lei faculta, não chegando a nenhuma conclusão. Vereador corrupto não era substituído por nenhum outro, possivelmente pela falta de pessoas que quisessem assumir o cargo. O serviço público como um todo era precário. Sessões eram canceladas por falta de um número mínimo de cinco participantes, incluído o presidente.
Por quase duas décadas a pauta das sessões se restringira as construções públicas da Vila de Castro como a Igreja Matriz, a cadeia pública e a ponte sobre o Rio Yapó. A Igreja Matriz recebia doações de famílias ricas e pobres, mediante o cuidado do “procurador de Nossa Senhora” e mais recursos provenientes da Província ou da própria corte. O mesmo acontecia no que se refere a ponte e a cadeia. Por muitos anos a cadeia ficou em situação de precariedade e ruína, os presos sem sustento esperando suas condenações, na maioria das vezes à forca.
A Câmara Municipal pelos meados da década de 1830, não possuía espaço próprio para as reuniões. Por muitos anos, as sessões eram realizadas na sacristia da Capela de Nossa Senhora do Rosário, hoje o espaço é ocupado pela Rua do Rosário, próximo a Praça João Gualberto. Outro lugar utilizado pelos vereadores foi a casa do Sr Francisco de Paula Ferreira Ribas, então Presidente da Casa de Leis.
A cachaça simbolizava produto de troca, ou de agregação de valor, como hoje é a soja. O governo imperial que determinava os preços que a mercadoria deveria ter e os impostos inclusos de uma Província para outra. A erva mate também adquiriu importante espaço nos negócios dos Campos Gerais, tanto a que fosse produzida na região, quanto a que viesse de outros lugares, como do Paraguai.
Para um conhecimento do macro espaço histórico no Brasil, neste período os atritos de D. Pedro I com a aristocracia rural eram constantes e sem condições de Governar, abdica o trono a seu filho e herdeiro Pedro de Alcântara, de 5 anos de idade. Pela Constituição de 1824, sendo o menino menor de idade, o poder executivo seria exercido por três regentes, escolhidos pela Assembléia Nacional.
Esses nove anos de Regência foram de grande agitação política e social em todo o país. Aqui não seria diferente. Muitos políticos não compreendiam a regência. A Câmara de Castro recebia constantemente ofícios vindos da capital da Província, determinando atenção aos rebeldes, e a necessidade de conter os problemas de ordem política, antes que chegassem a São Paulo.
Esse período também contemplou a divisão do Município de Castro em cinco distritos: Castro, Guartelá, Jaguariaíva, Ponta Grossa e Sant’Ana, de acordo com o trecho da ata da sessão extraordinária de 11 de Março de 1833:
“A commição expecial emcaregada de fazer a divizão dos districtos no termo desta Villa, tendo excrupulozamente examinado o melhor modo de fazer para se dar inteiro comprimento ao determinado no Capitullo primeiro do código de Processo, e o officio do Exsellentisimo Senhor Prezidente desta Provincia hé de pareçer se divida este termo em sinco Districtos não havendo proporções para mais divizões por falta de pesoas aptas aos percizos empregos: cuja divizão hé pelo theor seguinte:
Primeiro Districto desta Villa de Castro: Contem este districto quinhentas e quarenta e sinco cazas habitadas e fica dividido, para a parte do Leste com a Matta do Certão da Marinha, e desta para a parte do Sul pela Serra denominada Serrota de São Miguel, e por esta até o Rio Pitanguy, e por este abaixo thé a junção com o Rio denominada Pedra Grande, seguindo por esta a parte do Norte, sirvindo esta de diviza até o Rio Iapó, e por este abaixo té onde junta-se alem deste, a Curdilheira denominada Furnas, e por esta até entrar no Certão onde principiou a comfrontação.
Segundo Districto do Guartela comtem este Districto oitenta cazas habitadas, e fica dividido para a parte do Sul, onde foi junção o Rio São João no Rio de Pitangui, e por este abaixo te sua comfluencia com Tibaji, e por este abaixo te a Fóz do Rio Ribeira denominado Ribeirão Fundo, e por este asima té o Certão de Goarapuava, e por este para a parte do Norte té o Rio Tibaji; e a lem deste, pelo Certão dos Agúdos, seguindo a rumo de Léste té a cabeçeira do Ribeirão denominado Vorá, e por este abaixo té sua fóz com o Rio Fortaleza, e por este asima até o ponto onde faz diviza das Estancias de Santo Amaro com São Jozé, e com esta para a parte do Sul té a cordilheira Furnas.
Terceiro Districto de Jaguariahiva. Comtem este Districto setenta e nóve cazas habitadas, e divide-se para a parte do Nórte pelo Rio Itararé; para a do Sul pela Cordilheira denominada Furnas; para Léste com a Matta do Certão da Marinha; para Oeste comfina com os limites do Districto de Guartellá, nas divizas das Estancias de Santo Amaro e São Jozé.
Quarto Districto da Freguezia da Ponta Grossa. Comtem este Districto cento e setenta e duas cazas habitadas, e fica dividido para a parte do Sul pelo Rio Tibaji de sua nacente té onde fais junção o Rio de Santa Rita, e por este asima té contestar com a Matta do Rio do Registro, e seguindo por esta a parte do Oéste té em contrar com o rio Betú-guassú, e por este abaixo té sua comfluencia no Tibaji, e por este asima, té a fóz do Ribeirão denominado Cônxas, e por este asima té seo naçente no Capão denominado Taquaru-sú, da ponta deste, no lugar Estrada das Cônxas para a Ponta Grossa, procurando o rumo dos Vallos de Antonio Antunes e por este procurando o rumo da Matta da Bôcaina, e por este té a altura de huma vertente, e serca que servem de diviza dos proprietarios Lazaro da Silva e Maria da Incarnação; destas por hua vertente abaixo ao aroio denominado dos Piriquitos por este abaixo até o Rio Pitangui, e por este asima até onde se junta asima deste a Serrota de São Miguel e por esta procurando a Matta do Certão da Marinha, por esta parte de Léste té o ponto que fronte a Cabeceira do Rio Tibaji, onde principiou a comfrontação.
Quinto Districto de Santa Anna. Comtem este Districto cento e vinte e quatro cazas habitadas e fica dividido, para a parte do Léste, com limites do quarto Districto, dados por Cônxas, Taquaru-sú, Bôcaina e Periquitos; para parte de Oeste, com o Certão de Goarapuava; para o Norte pelo Rio de Pitangui da junção deste com os Periquitos para baixo thé a fóz do ribeirão denominado Ribeirão furado e por este asima té suas cabeceiras, que emanão do Certão de Goarapuava; para a parte do sul, divide-se donde faz junção o Ribeirão das Conxas com o Tibaji, e por este abaixo té sua comfluencia com Betu-guasú, agoas asima deste té o Certão de Goarapuava; posto a discução foi aprovado, e deliberou a Camara se tirase copia autentica da prezente acta, e se remeteçe, com o oficio ao Exsellentisimo Senhor Prezidente”.
Padre Diogo Antônio Feijó assume a regência una em outubro de 1835, período turbulento no Brasil, com a crise instaurada pelo imposto sobre o charque e a Revolução Farroupilha e pelo início da Cabanagem no Pará.
Nesse mesmo ano houve uma preocupação em determinar regras para cada Câmara Municipal, eleições, colégio eleitoral, juiz de paz com no mínimo dois anos de domicílio e o eleitor deveria ter em média uma renda anual de 100 mil reis. As eleições eram acompanhadas de missas realizadas nas Capelas do Município, em louvor ao Divino Espírito Santo.
Com o Golpe da Maioridade em 1840, D. Pedro de Alcântara tornou-se, aos 15 anos de idade, o novo imperador do Brasil, como D. Pedro II. Houve reestruturações em todas as Províncias do Império, e surgiram os primeiros questionamentos acerca de formar uma Província independente de São Paulo, a do Paraná. Porém esse projeto foi concretizado apenas em 1857.
A Câmara de Castro subsistia de várias maneiras. Doações de particulares, rendas da Província e de impostos oriundos das tropas que iam a Sorocaba. Por muitos anos, a segurança dos nomes ligados ao poder foi cercada pelo medo, repleto de crimes e assassinatos. Capangas e criminosos estavam aquém dos limites do Município, de uma freguesia a outra, fazendo vinganças pessoais instrumentos de política e manipulação. As atas relatam que pessoas eram assassinadas à luz do dia e não testemunhavam por medo de vingança. O poder estava nas mãos dos fortes, em oratória pelo menos. Índios e escravos eram citados com desprezo e inferioridade. A palavra mais certa para designar era o preconceito. Contudo, destacava-se a multiplicidade de faces da escravidão. Os negros tanto podiam ser açoitados quanto se ocuparem funções administrativas na fazenda ou na vida urbana, ou até mesmo assumir a chefia de uma fazenda, na ausência do seu senhor.
No caso dos indígenas, o propósito de expansão interiorana da sociedade dos Campos Gerais determinava a expulsão dos índios, obrigando suas comunidades a se retirarem para regiões mais afastadas. "A expansão territorial sempre significou a 'desapropriação' dos aborígines, colocando-os automaticamente no 'mercado' de escravos...".
A formação da Guarda Nacional mobilizou boa parte dos grandes fazendeiros da região. Essas estruturas militares passaram a atuar no município, nas paróquias e curatos. Em ocasiões excepcionais poderia agir em situações adversas para além das fronteiras da província, como corpos destacados para serviço de guerra. Os guardas nacionais subordinavam-se sucessivamente aos Juízes de Paz, Criminais, Presidentes de Província e Ministro da Justiça. O serviço nas tropas era, a princípio obrigatório e estendia-se por um período de 4 anos. Brasileiros de idade entre 21 a 60 anos e cidadãos filhos família com renda para serem eleitores eram qualificados como Guarda Nacional.
“Com a criação da Guarda Nacional, foram extintos os antigos corpos auxiliares das Milícias e ordenanças e das Guardas Municipais, passando ela a efetuar, em seu lugar, o serviço da manutenção da ordem interna. Tornou-se a principal força auxiliar durante a Menoridade e inícios do Segundo Reinado, e o elemento básico na manutenção da integridade nacional”.
Descortina-se aos poucos, elementos políticos que nos proporcionam desvendar comportamentos sociais típicos e marcantes do sul do Brasil: a pecuária, a escravidão até a pouco negada e o grande poder de sobrenomes e armas...
Primavera de 2008.
Dicionário dos Campos Gerais/UEPG.
Ensino laico era feito por pessoas ligadas a nenhuma congregação religiosa, sinônimo de leigo.
IANNI, Octavio. As metamorfoses do escravo. Apogeu e crise da escravatura no Brasil Meridional. São Paulo: DIFEL, 1962, p.81.
CASTRO, Jeane Berrance. A Guarda Nacional. In HOLANDA, Sérgio B. (org.) Brasil Monárquico: declínio e Queda do Império. 5 ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995, p. 276.
Leia Também:
A HISTÓRIA DE CASTRO ATRAVÉS DAS ATAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
AS PEQUENAS AÇÕES ESCREVERAM A GRANDE HISTÓRIA
|